Mundo
Inação ambiental pode custar até 33% do Produto Interno Bruto de países amazônicos, diz estudo do Ministério da Gestão e a ONU lançado na COP 30, em Belém
Estudo revela custo estimado até 2070 caso não haja intervenções imediatas diante das mudanças climáticas na região.

Nesta quarta-feira (19/11), durante a segunda semana da COP 30, realizada em Belém (PA), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), lançou o estudo “Medindo os custos de inação e as capacidades estatais na Bacia Amazônica”.
O estudo utiliza uma abordagem inovadora combinando revisão sistemática de literatura produzida entre 2000 e 2024 sobre o tema com ferramentas de inteligência artificial, que revelou custo estimado entre 14% e 33% do PIB dos países amazônicos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela) até 2070 , caso não haja intervenções preventivas imediatas na região. Por isso, o estudo se alinha com a agenda do MGI na COP 30 ao defender o reforço das capacidades estatais para enfrentar os desafios da agenda climática.
Representando o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o secretário Extraordinário para a Transformação do Estado, Francisco Gaetani, destacou que a discussão sobre a região Amazônica exige cooperação regional e visão integrada entre os países sul-americanos.
“A gente tende a pensar a Amazônia como uma realidade brasileira. Mas a Amazônia é uma realidade da América do Sul e afeta um conjunto significativo de países, sendo uma conversa com perspectiva regional. Hoje, mais do que nunca, retomar essas conversas é relevante para todos nós e uma agenda permanente”, pontuou.
A estimativa de custo decorre de um conjunto robusto de evidências científicas que apontam impactos diretos e indiretos das mudanças climáticas na região da bacia Amazônica. Esses impactos envolvem a biodiversidade e serviços ecossistêmicos; o armazenamento de carbono; a produção agrícola; a saúde pública, especialmente decorrentes de incêndios e arboviroses; infraestrutura e logística e os deslocamentos forçados e migrações. O estudo revelou ainda que existem lacunas críticas nas políticas nacionais atuais dos países, sendo essencial uma cooperação regional robusta para enfrentar os desafios, com ampla participação das comunidades locais.
Principais Impactos Identificados:
– Redução de precipitações: Diminuição de 7,9% no oeste amazônico
– Extensão da temporada seca: Prolongamento significativo dos períodos secos
– Aumento de temperatura: Incrementos de até 2-3,3°C em áreas deflorestadas
– Alterações hídricas: Redução de até 22% nos caudais de rios
– Redução da evapotranspiração: Diminuição de 10% em áreas deflorestadas
– Risco de incêndios: Duplicação do risco na Amazônia oriental
A partir dos riscos identificados, o estudo analisou as perdas econômicas que a falta de ação causará aos países da bacia Amazônica nos próximos quatro anos, com o total estimado entre US$ 525 bilhões e US$ 915 bilhões anuais, o que representa entre 14% e 33% do PIB dos países da bacia.
Principais categorias de custos identificadas:
– Biodiversidade e serviços ecossistêmicos: US$ 50-100 bilhões/ano
– Perda de carbono armazenado: USD 30-50 bilhões/ano
– Impactos na agricultura: US$ 20-30 bilhões/ano
– Regulação hidrológica: US$ 20-30 bilhões/ano
– Perda de produtividade: US$ 15-25 bilhões/ano
– Custos de cenários catastróficos: US$ 100-200 bilhões/ano
Lyes Ferroukhi, diretor do Pnud, destacou em sua fala a centralidade da Amazônia nos debates climáticos globais. Em sua análise, Ferroukhi observou que esse sistema, formado ao longo de milhares de anos, enfrenta hoje um estresse sem precedentes. Ele lembrou que a ciência já identifica com maior precisão os limiares críticos da floresta e alertou para os riscos de colapso irreversível diante de aquecimento global mais intenso ou da continuidade do desmatamento. Mesmo cenários menos extremos, como 1,5ºC ou 2ºC de aquecimento, podem ser suficientes para transformar a Amazônia de sumidouro em fonte de carbono caso a perda florestal avance além de 20% a 25%.
Ao abordar a dimensão econômica da crise, o diretor enfatizou que traduzir esses impactos em números é essencial para orientar decisões e políticas públicas. Como afirmou: “Embora repitamos esses fatos, raramente os traduzimos em termos econômicos. Vamos fazer uma pausa por um momento e nos perguntar: qual é o custo de perder a Amazônia? O que significa a falta de ação para a vida, para a segurança alimentar, para a segurança hídrica, para o desenvolvimento sustentável e até mesmo para a segurança nacional e regional?”, questionou.
Ferroukhi reforçou que a Amazônia é o coração da hidrologia sul-americana e exerce papel estabilizador no clima global. Segundo ele, permitir seu colapso significaria assumir danos irreversíveis e de magnitude extraordinária, afetando não apenas os países amazônicos, mas todas as nações representadas na COP 30, em Belém. Daí sua conclusão: “Nosso desafio, portanto, é claro: precisamos ir além da consciência ambiental e integrar o conhecimento ecológico ao valor econômico, para fundamentar a urgência da proteção, porque o custo da inação tornará infinitamente mais caro preservar esse sistema insubstituível no futuro.”
Não deixe de curtir nossa página no Facebook, siga no Instagram e também no X.

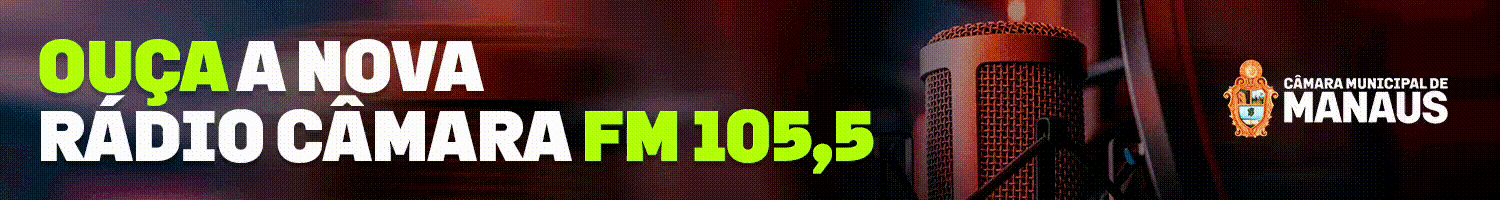






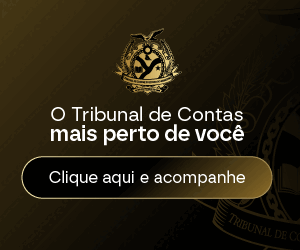
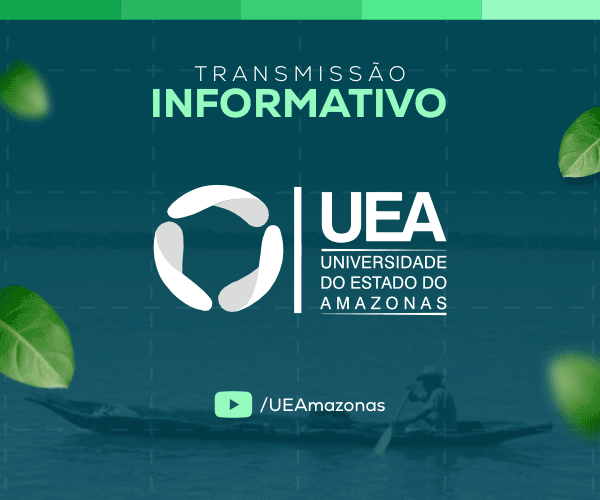
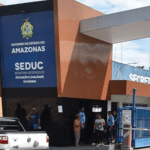









Faça um comentário