Brasil
Mais da metade dos estudantes do país não acredita que a escola se preocupa com seu bem-estar, aponta pesquisa
Pesquisa sobre a saúde mental nas escolas do Brasil revela entre outros problemas, bullying naturalizado e professores esgotados.

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, traçando um panorama dos desafios de saúde mental na educação básica brasileira, apontou que mais da metade dos estudantes (57%) não acredita que a escola ou os professores se preocupem com seu bem-estar. Apenas 22% disseram se sentir plenamente reconhecidos e acolhidos. Essa percepção se agrava com o decorrer dos anos, justamente num momento de maior vulnerabilidade emocional, quando o aluno, na adolescência, se aproxima do ensino médio.
O levantamento aponta como o ambiente escolar tem deixado de representar um espaço de proteção e pertencimento para ser atrelado, por estudantes e educadores, aos sentimentos de cansaço, ansiedade, isolamento e sobrecarga emocional. O estudo também descreve um cenário de normalização do bullying e de outras violências.
O Instituto Educbank de Educação e Cultura, em parceria com o Great Place to Study (GPTS), coletou 18 mil respostas de estudantes (56,1%), parentes de alunos (32,2%) e professores (11,6%) de quase 200 escolas em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal — principalmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre — entre novembro passado e maio deste ano. Segundo João Hoppner, CEO do Great Place to Study, os resultados pouco variaram entre grandes e pequenos centros urbanos, o que indica um cenário sistêmico de desafios.
O índice de saúde psicológica regride e aponta uma quebra de vínculos afetivos ao longo da vida escolar. O levantamento aponta que esse indicador caiu de 80 pontos nos 4º e 5º anos do ensino fundamental para 64 pontos no ensino médio, o que, segundo os autores da pesquisa, revela um processo de adoecimento progressivo. Mas a fase mais crítica se dá nos anos finais do fundamental (8º e 9º anos), quando o índice de convivência cai para 46 pontos.
Violência, cansaço e ansiedade
Para João Hoppner, mais preocupante ainda é a constatação da naturalização da violência no ambiente escolar e a criação de uma “cultura do silêncio” em relação a isso. Ele destaca que, pelo levantamento, 19% dos estudantes discordam totalmente da afirmação de que a escola é eficiente no combate ao bullying, e outros 27% afirmam discordar parcialmente dessa assertiva.
— As escolas, muitas vezes, não querem saber qual o tamanho do problema, dos índices de bullying. Se você dimensiona e entende a profundidade, você tem que agir. Essa cultura do silêncio é tão grande que, para várias delas, é melhor nem falar no problema. Mas isso explode, e a gente vê ataques em escolas, violência autoinduzida, e até o caso da menina (Alícia Valentina), que é a ponta do icerberg. Essa cultura não está só no quão difícil é pedir ajuda e saber o que fazer, mas também na falta de dados. É preciso pensar na situação, que tem se tornado insustentável. Muitas vezes, o adolescente que está sendo violento está pedindo socorro para algo que ele está passando — afirma.
Hoppner se refere à morte de Alícia Valentina, espancada numa escola em Belém de São Francisco, em Pernambuco. A Polícia Civil do estado apura a motivação do ataque, que, segundo uma testemunha, teria ocorrido depois de ela se recusar a “ficar” com um colega. Um adolescente foi apreendido como responsável pelo ato infracional.
A pesquisa identificou a normalização do bullying e da exclusão silenciosa de estudantes, com reflexos na autoestima, no desempenho acadêmico e na permanência escolar. O estudo também apontou o progressivo distanciamento das famílias conforme os estudantes crescem. Hoppner explica que o dado reflete o aumento da autonomia dos jovens, mas também o enfraquecimento de uma parceria importante na educação.
— Um a cada cinco pais diz que seus filhos são apenas um número para a escola. Tem uma separação sobre qual seria o papel da escola e qual seria o papel da família, como se a escola ficasse com o conteúdo e os pais, com os valores. Mas é preciso haver uma aliança. Não há muitas vezes colaboração e diálogo da família com a escola — ressalta o especialista.
Lara Crivelaro, diretora acadêmica do Instituto Educbank, destaca que o objetivo do levantamento não é apontar culpados, mas entender os dilemas por trás do processo natural de busca de validação dos jovens estudantes e desafios diversos do amadurecimento deles, incluindo no contato com as redes sociais.
— Fica claro que pais e alunos não têm regras claras de como lidar com redes sociais, com a pressão do conteúdo, com o excesso de estímulo para os alunos. Outro ponto importante é a questão do ciberbullying, que não tem rosto. Quando o aluno pratica ou apoia essa violência, dando um like por exemplo, você não encara a vítima. Isso acaba potencializando, e os educadores e responsáveis não sabem como lidar com algo que está acontecendo no celular, não nas escolas. É necessário jogar luz sobre esse tema, nessa nova forma de bullying, que é violenta com adolescentes que precisam de aprovação dos seus pares para se sentirem estáveis e autônomos — afirma Lara.
De acordo com o levantamento, os sentimentos prevalentes entre os jovens estudantes são o cansaço e a ansiedade — 64% dos alunos disseram se sentir sobrecarregados e cansados pela escola em níveis que prejudicam sua saúde mental. Outros 24% relataram não se sentir pertencentes a qualquer grupo no ambiente escolar, e apenas um terço afirmou receber o apoio dos colegas ou sentir que seus pares se importam com seus sentimentos.
Piora na ‘fase mais crítica’
Para Hoppner, Lara e outros autores do levantamento, a escola promove pertencimento quando ele é quase natural, nos anos iniciais de ensino, mas falha em sustentá-lo quando ele se torna ainda mais necessário e mais difícil de construir.
Segundo os autores, a convivência escolar progressivamente menor indica que, no período de maior vulnerabilidade emocional, os estudantes enfrentam violências simbólicas, como a exclusão social, sem qualquer mediação de adultos. Essa naturalização da violência contribui para quadros de ansiedade, depressão e, em casos mais extremos, para a evasão escolar precoce.
“Enquanto os primeiros anos são marcados por maior integração, acolhimento e ludicidade, os adolescentes enfrentam um ambiente cada vez mais impessoal, competitivo e centrado em desempenho. O resultado é uma experiência educacional que, em vez de nutrir o pertencimento, intensifica o sentimento de solidão em fases críticas do desenvolvimento humano”, conclui o estudo.
Além disso, os impactos na aprendizagem seguem uma falta de pertencimento e apoio entre os colegas. Para os autores do estudo, esse distanciamento (57% não acreditam que a escola ou os professores se preocupem com seu bem-estar e só 22% deles se sentem plenamente reconhecidos e acolhidos) reforça a necessidade de institucionalizar a escuta ativa como parte do projeto pedagógico.
— É muito importante trazer a questão do pertencimento. Quando o aluno se sente apoiado, ele não vai querer sair dessa escola. Se ele se sentir inseguro, ele vai querer sair, ir para outro lugar. O filho estando feliz, a família fica feliz. A convivência saudável é importante até para o negócio escola. O que a gente percebe é que a escola não é uma entidade falida, ela está em transição. A gente não pode culpar, mas pode pensar num novo projeto educativo, com eixos na escuta, no cuidado sistêmico, num ambiente mais acolhedor e empático. Isso não é utopia — defende Lara.
Professores ‘esgotados’
Outro eixo do levantamento aponta o que os autores chamaram de “esgotamento invisível” dos professores. Os dados indicam altos níveis de desgaste emocional e contradições entre propósito e exaustão, além de uma complexa convivência entre alegria e sobrecarga. Segundo a pesquisa, 75% dos profissionais de ensino entrevistados destacaram se sentir constantemente desgastados pelo trabalho, em níveis que comprometem sua saúde mental.
Apesar disso, 91% dos educadores afirmaram que a profissão contribui para o senso de felicidade, e 90% expressaram ter conexões profundas com colegas de trabalho. Os elos afetivos foram descritos como “fator de resistência” em meio ao esgotamento dos profissionais.
Os autores do estudo ressaltam que essa ambivalência entre prazer e exaustão revela o que chamaram de “paradoxo da docência”. Embora o trabalho seja associado a uma realização, as condições institucionais têm imposto níveis de desgaste insustentáveis, o que aponta para um cenário de “normalização da exaustão”. Os professores afirmam que o cuidado com os estudantes não é acompanhado por políticas específicas que cuidem dos educadores.
“Esses dados reforçam que o bem-estar docente precisa ser tratado como questão estrutural, e não responsabilidade individual. A pesquisa aponta que conexões de apoio entre colegas funcionam como fator de proteção, mas não substituem políticas institucionais de cuidado. Sem valorização, redução de sobrecarga e suporte psicológico, a tendência é que o esgotamento comprometa não apenas os professores, mas a própria qualidade da aprendizagem”, conclui o estudo.
O estudo aponta a necessidade urgente de implementar uma cultura escolar mais sensível a demandas emocionais da juventude e da classe educadora.
Com base no levantamento, as entidades recomendaram que gestores, famílias e a comunidade escolar passem a inserir a educação socioemocional no currículo; criem estruturas permanentes de escuta para alunos, parentes e professores; adotem políticas de cuidado de docentes, incluindo apoio psicológico e condições de trabalho mais equilibradas; e revisem a própria lógica escolar para reduzir a sobrecarga acadêmica e valorizar vínculos de pertencimento.
Não deixe de curtir nossa página no Facebook, siga no Instagram e também no X.

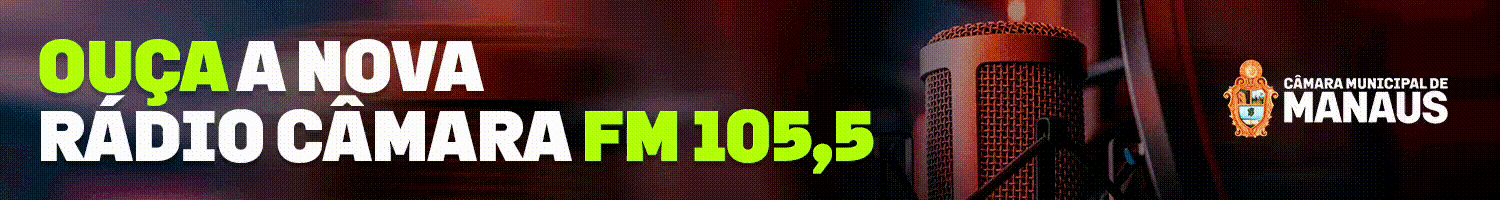






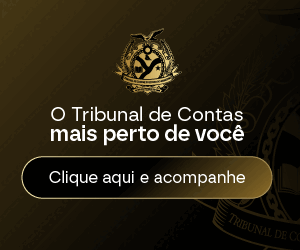
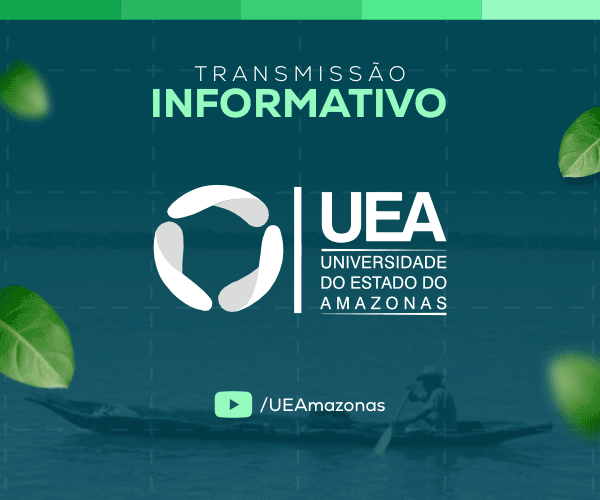










Faça um comentário