Amazonas
Seca extrema e onda de calor elevaram temperatura de lago no Amazonas a 41 ºC em 2023, aponta pesquisa
Imersos em uma água mais quente do que a de uma banheira aquecida, botos e peixes agonizaram até morrer, segundo estudo.

Em 28 de setembro de 2023, pesquisadores do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, organização social ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), foram surpreendidos por uma cena devastadora no lago Tefé, no Amazonas: 70 botos de duas espécies – boto-vermelho e tucuxi – foram encontrados mortos em seu canal de escoamento. Naquele dia, os sensores registraram 39,5 graus Celsius (°C) nas águas superficiais do lago, muito acima do observado em anos anteriores, quando as medições mensais indicavam uma temperatura máxima de 33,3 °C e média de 29 °C.
Nas semanas seguintes, o número de carcaças de botos chegou a 209. A área da superfície do lago foi reduzida em cerca de 75%. Diminuiu de 379 quilômetros quadrados (km²) para apenas 95 km². Grandes áreas antes alagadas se transformaram em poças rasas, com menos de 50 centímetros de profundidade. Nessas condições extremas, houve também grande mortalidade de peixes em outros lagos e reservatórios da região, agravada pela drenagem de áreas de várzea e redução do volume dos rios.
As informações são de um artigo publicado nesta quinta-feira (6/11) na revista Science, coordenado pelo engenheiro ambiental brasileiro Ayan Fleischmann, do Instituto Mamirauá, em parceria com instituições de pesquisa nacionais e internacionais. O estudo mostrou que a elevada mortalidade de peixes e botos registrada em 2023 foi consequência da combinação entre a seca extrema e uma onda de calor, ambas sem precedentes. Além das mudanças climáticas globais, uma forte manifestação do fenômeno climático El Niño, caracterizada pelo aquecimento das águas superficiais do centro-leste do oceano Pacífico, contribuiu para a estiagem e o calor acentuado na região Norte naquele ano.
Utilizando simulações hidrodinâmicas, os pesquisadores identificaram quatro fatores principais para o superaquecimento: a baixa velocidade do vento, que reduziu a perda de calor da água; a radiação solar intensa associada à pouca cobertura de nuvens; as águas mais turvas que o normal, o que aumentou a absorção de calor; e o volume muito reduzido de água, que favoreceu o aquecimento. O modelo indicou ainda que a falta de vento teve papel mais decisivo que o próprio aquecimento do ar, revelando a complexidade das interações climáticas na região.
Entre os 10 lagos monitorados (Tefé, Coari, Samaumerinha, Amaña, Buá-buá, Cedrinho, Janaucá, Calado, Miriti e Castanho), cinco registraram temperaturas diurnas acima de 37 °C. Em um deles, o Tefé, a água chegou a 41 °C em toda a profundidade, de cerca de 2 metros (m), e a diferença entre a máxima e a mínima temperatura diária chegou a 13 °C. A temperatura de 41 °C é 2 ºC superior à considerada confortável para o ser humano ficar em uma banheira caseira com água aquecida.
“Certo dia, quando a temperatura atingiu o pico da tarde, presenciamos uma cena muito forte: um boto-vermelho agonizando, girando em círculos até afundar. A carcaça estava intacta, o que indicava que não houve ferimentos, mas um colapso fisiológico”, lembra Fleischmann. Antes da tarde, segundo o pesquisador, aquele ambiente era fértil, cheio de peixe. “Quando começava a esquentar, os bichos iam embora [o lago tem conexão com o rio Solimões] e os botos-vermelhos ficavam. Era como uma armadilha porque eles não conseguiam sair. Tinha um efeito neurológico quando começavam a agonizar, a girar em círculos, e eles não conseguiam tomar a decisão correta de sair do ambiente.”
Para o biólogo Marcelo de Oliveira Soares, do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar-UFC), que não participou do estudo, o episódio de 2023 evidencia os limites da vida aquática diante do calor extremo. “Com a água muito quente e sem refúgio, os animais ultrapassam seu limite de tolerância e entram em colapso. Eventos como esse tendem a se tornar mais frequentes e intensos com o avanço das mudanças climáticas”, diz.
O comentário dialoga com a explicação do também biólogo Adalberto Luis Val, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), coautor do novo estudo. Os peixes enfrentam o que ele chama de “trio da morte”: o aquecimento, a desoxigenação e a acidificação das águas. “Mesmo aumentos pequenos de temperatura, de 1 ou 2 ºC, já comprometem a reprodução e o metabolismo”, detalha Val.
Espécies características da região, como o tambaqui, evoluíram para respirar na superfície, onde há mais oxigênio. O problema é que essa é justamente a camada mais aquecida da água. “Essa adaptação, que antes garantia sobrevivência, volta-se contra os animais em eventos extremos, levando a uma mortalidade em massa”, comenta o pesquisador. Val é coautor de outro artigo, publicado em 2024 no Journal of Experimental Biology, sobre a mortalidade dos peixes amazônicos durante a seca de 2023.
Para a população humana da região, as secas extremas também representam um grande desafio. As comunidades ribeirinhas enfrentaram isolamento e dificuldades de locomoção, já que os rios são o principal meio de transporte na Amazônia, o que comprometeu o acesso a alimentos, água potável e medicamentos. A morte em massa de peixes, base da alimentação e da economia local, agravou ainda mais a crise.
Monitoramento ainda é desafio
“Depois de registrar aquela temperatura absurda no lago Tefé, a pergunta natural que fizemos foi se o fenômeno estava ocorrendo também em outros lagos”, conta Fleischmann. “Organizamos uma rede emergencial com parceiros em diferentes regiões e fomos a campo.” Os dados mostraram que o aquecimento era generalizado.
Para dimensionar o problema, a equipe combinou medições diretas, modelagem hidrodinâmica e dados de satélite. O esforço revelou um aquecimento médio de 0,6 °C por década nos lagos amazônicos desde 1990, resultando em um aumento da ordem de 2 °C nos últimos 35 anos. “Os satélites foram fundamentais, porque faltam séries históricas longas de temperatura da água na Amazônia. O desafio agora é transformar esse esforço pontual em monitoramento contínuo, feito com o apoio das comunidades locais”, explica o pesquisador.
Segundo a médica e meteorologista Micheline Coelho, pesquisadora colaboradora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) e da Universidade Monash, da Austrália, o Brasil ainda carece de redes consistentes de monitoramento ambiental. No caso da Amazônia, a manutenção de estações é cara e logisticamente complexa. “Sem séries longas e medições contínuas, é impossível entender se as mudanças são pontuais ou parte de uma tendência climática. O monitoramento sistemático é essencial para prever eventos extremos e proteger ecossistemas e comunidades vulneráveis”, enfatiza Coelho, que não participa da equipe que produziu o artigo da Science.
Desde dezembro de 2024, Fleischmann coordena o projeto Lagos Sentinelas da Amazônia, com financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A iniciativa reúne pesquisadores, gestores públicos e comunidades ribeirinhas para compreender e monitorar, de forma colaborativa, os impactos das mudanças climáticas nos lagos da Amazônia Central e buscar soluções adaptativas para as populações do entorno.
Não deixe de curtir nossa página no Facebook, siga no Instagram e também no X.

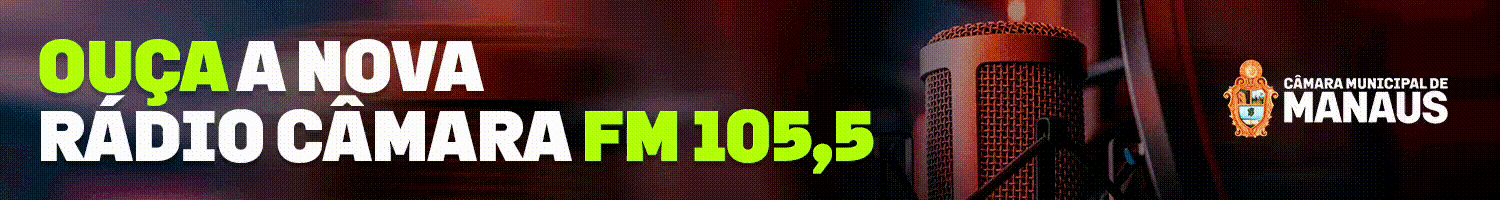






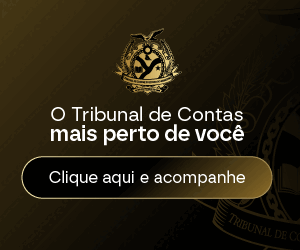
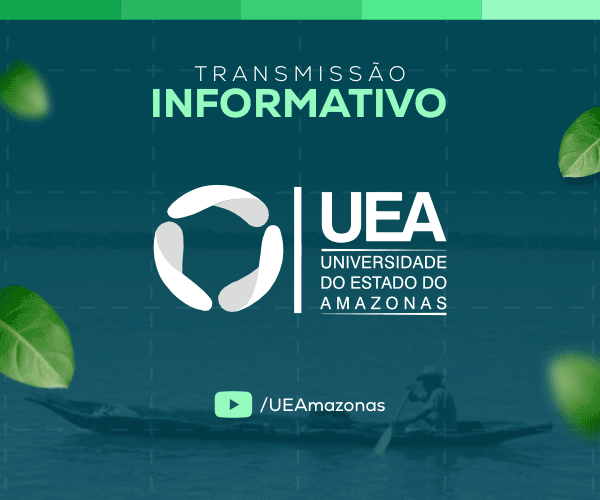










Faça um comentário