Brasil
Preconceito matou mais de 5 mil pessoas LGBTQIA+ em 20 anos no Brasil, diz estudo
O mundo comemora nesta segunda-feira (28) o dia do orgulho LGBTQIA+, e um dado alarmante mostra a violência resultado do preconceito sofrido pela comunidade no Brasil.

Bandeira LGBT ao lado da bandeira da visibilidade trans. (Foto: Cecilie Johnsen/Unsplash)
Segundo dados do Observatório de Mortes Violentas de LGBTI+, feito pelos grupos Acontece Arte e Política LGBTI+ e Grupo Gay da Bahia (GGB), foram contabilizadas mais de cinco mil mortes de pessoas representadas por essas letras em vinte anos.
Esses números referentes a 2020 mostram uma queda de quase 30% se compararmos com os dados do mesmo levantamento de 2019.
De acordo com os grupos que fazem a pesquisa, esses números estão em queda principalmente depois da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que colocou a homofobia entre os crimes na legislação brasileira.
Piora na saúde mental na pandemia
Desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, a vida de milhares de pessoas passou a ser impactada diretamente por um vírus que, num primeiro momento, não faz distinção entre gênero, cor da pele ou condição social.
No entanto, a pandemia atinge as pessoas de maneiras diferentes. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), os impactos são mais acentuados de acordo com marcadores sociais, que incluem raça, gênero, classe social, territórios, dinâmica social e econômica e a sexualidade.
Neste 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT, um estudo revela um aumento de 16% na vulnerabilidade da população LGBTQIA+ no Brasil no último ano. Os dados, que mostram um agravamento da situação psicológica e financeira dessas pessoas, são de um trabalho realizado pelo coletivo #VoteLGBT, em parceria com a Box1824, especializada em pesquisa de mercado.
O levantamento atualiza uma pesquisa lançada em junho de 2020, que ouviu mais de 7 mil pessoas das classes B e C, nas cinco regiões do país, e trouxe três impactos principais para essa população durante os primeiros meses da pandemia, incluindo a piora da saúde mental, o afastamento da rede de apoio e a ausência de fonte de renda.
Saúde mental
O afastamento das redes de apoio, em especial devido às medidas de distanciamento social, refletiu em uma piora da saúde mental e no aumento das queixas dessa população de que faltam políticas públicas de apoio à comunidade.
Mais da metade dos consultados (55,1%) respondeu considerar que estão em condições de saúde mental piores hoje em comparação com um ano atrás. Cerca de 55% foram diagnosticados com o risco de depressão no nível mais severo, índice quase 8% a mais que na pesquisa de 2020 (47%).
Segundo o estudo, 30% das pessoas já haviam recebido diagnóstico prévio de depressão e 47,5% para ansiedade. Os números representam um aumento de 2% para as duas condições clínicas em comparação com a pesquisa de 2020, que foi de 28% para depressão e de 45,3% para ansiedade.
Os relatos dos participantes ouvidos pela pesquisa incluem, entre os fatores de maior impacto para a saúde mental, a perda de renda e vulnerabilidade material, adoecimento e perda de parentes e amigos, ausência de convívio social, além de falta de espaço físico e de perspectivas.
Além do contexto estrutural e de agravamento da pandemia, dois fatores colaboram para a piora da saúde mental da população LGBTQIA+ segundo a pesquisa: a distância das relações mais próximas, devido ao isolamento, e a escassez na ajuda profissional.
Desemprego e insegurança alimentar
Segundo a pesquisa, o prolongamento da crise da Covid-19 ao longo de 2021 está relacionado ao agravamento da situação financeira das pessoas LGBTQIA+.

Manifestação LGBTQIA+ em El Salvador. (Foto:Aphotographia/Getty Images)
A ausência de renda reflete em consequências diretas como a falta de acesso regular a alimentos em quantidade suficiente sem o comprometimento a itens essenciais. A situação, conhecida como insegurança alimentar, atinge 41,5% dessa população, chegando a 56,8% entre pessoas trans.
O estudo identificou que 6 em cada 10 pessoas LGBTQIA+ tiveram diminuição ou ficaram sem renda por causa da pandemia. A mesma porcentagem (59,4%) está sem trabalho há um ano ou mais. A taxa de desemprego entre esse grupo é de 17,1%, subindo para 20,4% entre pessoas trans.
Como são estimados os cálculos
O resultado tem como base o Índice VLC (Vulnerabilidade LGBTQIA+ à Covid-19), criado para o estudo de 2020. O índice oferece indicadores quantitativos que envolvem o cruzamento de dados sobre acesso à saúde, ao trabalho, à renda e exposição ao risco de infecção pelo coronavírus. A metodologia utilizada é a mesma que caracteriza o índice de vulnerabilidade social do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA).
O índice varia entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, maior a vulnerabilidade à doença do grupo analisado. Segundo o estudo, os resultados apontam que a totalidade da população LGBTQIA+ se encontra em um nível de vulnerabilidade grave e 16%, em média, mais elevado do que o ano passado, segundo as dimensões de renda e trabalho, exposição ao risco de contágio e saúde.
O aumento da exposição ao risco também se deve ao aumento no número de casos e quantidade maior de pessoas que deixaram o isolamento social. Os números de 2020 já indicavam que a população se encontrava em um nível de vulnerabilidade entre alto e grave (especialmente entre pessoas trans, bissexuais e pretas, pardas ou indígenas).
Orgulho da existência LGBTQIA+
Uma zapeada na TV ou uma olhada rápida nas redes sociais são suficientes para constatar: no Brasil de 2021, estar identificado com alguma das letras da sigla LGBTQIA+ já não significa, necessariamente, muitos e sofridos anos dentro de um armário de repressão, violência e vergonha. A bandeira multicolorida, além de ostentada como símbolo de luta e militância, hoje ajuda a vender calçados, celulares, roupas e salgadinhos.
Então, qual o sentido de se falar em orgulho LGBTQIA+ no Brasil de hoje – um país que conta diariamente, aos milhares, as mortes pela Covid-19, onde a pobreza cresce e a política divide?
O Brasil ainda registra índices altos de mortes violentas dessa população. O relatório “Observatório das Mortes Violentas de LGBTI+ no Brasil – 2020”, produzido por pesquisadores do Grupo Gay da Bahia e do grupo Acontece Arte e Política LGBTI+, mostra que nos últimos 20 anos mais de 5 mil pessoas da comunidade foram assassinadas ou se suicidaram por LGBTfobia.
Hoje, a mera discussão de identidade de gênero é atacada em diversas frentes institucionais. Direitos conquistados depois de décadas de reivindicações são ameaçados. Neste 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a CNN discute a relevância e a urgência de tratar das histórias, conquistas e dificuldades dessa comunidade em nosso país.
Em tempo: L, de lésbicas. G, de gays. B, de bissexuais. T, de trans. Q, de queer. I, de intersexo. A, de assexuais, arromânticas e agêneros. O sinal de mais abrange toda a diversidade que as letras anteriores não tenham alcançado, como pansexuais, não-binários, etc.
Orgulho é presença
“Pode ter lgbtquzwntc… mas não pode glamourizar a frescura.” O comentário foi uma das centenas de reações a um post da CNN Brasil no Twitter contra um projeto de lei que tentava proibir a veiculação de publicidade com pessoas não-heterossexuais no estado de São Paulo.
A publicação, na qual a CNN disse acreditar “em um mundo diverso, inclusivo, afirmativo e, sobretudo, justo”, foi feita no dia 23 de abril de 2021, cinco dias antes de o projeto sair da pauta da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
Caracterizar a pauta da diversidade sexual e de gênero como “frescura”, explicaram especialistas ouvidos pela CNN, é uma das formas mais comuns da atualidade de minimizar as demandas do movimento – e tentar transformar em vergonha o orgulho.
Para Debora Baldin, que produz conteúdo sobre política e ativismo LGBTQIA+, ser acusada de fazer “mimimi” é o sintoma de algo bom: os avanços dos últimos anos na sociedade brasileira em direção à normalização dos afetos não heterossexuais acabaram produzindo esse muxoxo do “está tudo muito chato”.
Reduzir ao mimimi uma luta de décadas contra todo tipo de violência pode significar, segundo ela, que “as pessoas se sentem menos à vontade” para constranger indivíduos cuja sexualidade ou identidade de gênero não se encaixem nas expectativas mais conservadoras.
“Nosso debate já não pode ser ignorado. Ainda que a gente tenha muitos problemas, é uma pauta que não vai mais sumir. É como acontece com o racismo: as pessoas têm que ter uma posição”, avalia a ativista de 28 anos.
Orgulho é dignidade
Antes que o orgulho se opusesse a “frescuras” ou “mimimis”, ele era o oposto de visibilidade. O advogado e ativista de direitos humanos Renan Quinalha lembra que, nos anos 1970, a palavra passou a batizar manifestações civis por direitos básicos da comunidade: reconhecimento da existência e da dignidade de pessoas que até então estavam abrigadas, genericamente, na definição de “gays”.
Quinalha, coautor do livro “História do Movimento LGBT no Brasil”, explica que a afirmação de outras identidades sexuais que não as heterossexuais ganhou força mundo afora com a contracultura dos anos 1960 e guarda relação com outros movimentos civis de grupos subalternizados, como os movimentos negro e feminista.
No caso da comunidade LGBTQIA+, a referência histórica é a Revolta de Stonewall, em 1969, quando uma série de motins eclodiu em Nova York como resposta à repressão policial a gays, lésbicas, travestis e outras minorias. A rebelião aconteceu em 28 de junho, que acabou se tornando o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. “Nem tudo começa em Stonewall, mas muita coisa muda ali”, conta Quinalha.
Essa revolta demoraria a chegar no Brasil. Enquanto travestis, drag queens, homens gays e mulheres lésbicas manifestavam sua fúria contra a opressão nas ruas de Nova York, o Brasil vivia o auge da repressão da ditadura militar.
O fim da ditadura, no entanto, não representou grande avanço para as minorias sexuais. Os anos 1980 ficaram marcados pela epidemia de Aids, que deu fôlego extra à violência e à estigmatização da comunidade.
Foi só nos anos 1990, quando a doença já não causava tanto pânico e quando surgiram no país as primeiras paradas do orgulho gay, que a situação começou a mudar, saindo da patologização da comunidade até drag queens atuando em propagandas no Brasil de 2021.
Orgulho é liberdade
Ser, com orgulho, o que se é – em qualquer lugar. Para a comunidade LGBTQIA+, esse é um enfrentamento que começa, quase sempre, em casa. No núcleo familiar. Como acontece com tantos pais que descobrem que seus filhos não são heterossexuais, a psicóloga Carol Yumi reagiu muito mal ao ler no diário da filha Giovanna, então com 15 anos, que sua primogênita gostava de ficar com garotas. “Eu me achava uma pessoa livre de preconceitos, mas quando aconteceu em casa, vi que não era. Não conseguia aceitar”, contou.
“Fiquei me questionando onde foi que eu errei. Achei que não tinha educado a Giovanna como deveria, que tinha deixado ela muito livre. Pensei que era falta de Deus e a forcei a frequentar reuniões do espiritismo”, relembra Carol, cinco anos depois do baque.
À revelação involuntária de Giovanna seguiram-se meses de choro e estranhamento dentro de casa, conta a garota, que cursa publicidade e se define como bissexual. “Ninguém tocava no assunto, todo mundo fingia que não tinha nada acontecendo. Eu ainda estava me descobrindo, tinha decidido que não ia contar até que eu estivesse em um relacionamento com uma garota”, disse.
Com o pai, a descoberta rendeu uma discussão constrangedora com a filha e com a ex-esposa, uma tentativa de tirar Giovanna do colégio onde estavam algumas “más companhias” e três meses de silêncio absoluto.
A situação começou a mudar quando Giovanna se apaixonou, engatou um namoro com outra menina e avisou a família. “Eu pensei: ‘pode ser que não aceitem, que eu tenha que lidar com muita coisa, mas eu prefiro falar e lidar com essa situação'”.
No segundo relacionamento sério com uma menina, Giovanna finalmente experimentou a aceitação familiar que um dia temeu nunca acontecer. As aulas de sexualidade e gênero na faculdade de psicologia que Carol cursava foram determinantes.
“Aprendi que orgulho é a liberdade de você poder ser quem você é. Hoje eu admiro tanto a coragem da minha filha, por ter ido contra tudo e todos e ter assumido quem ela é. Para mim, foi a oportunidade de refletir melhor sobre a questão”, diz Carol.
Hoje, ela integra o Mães pela Diversidade, ONG composta por pais e mães de pessoas LGBTQIA+ e que trabalha para “tirar famílias da população LGBTQIA+ do ‘armário’, para que, juntos, possamos gritar mais forte contra o bullying, a opressão, a segregação e a discriminação que sofrem nossos filhos desde crianças”, segundo o site da entidade.
“Entrei para o Mães pela Diversidade para poder contribuir com esse olhar de desconstrução. O que traz sofrimento aos pais é não ter tido acesso à informação, não ter tido uma oportunidade de refletir sobre a questão por um outro ponto de vista”, afirma Carol, que guarda na carteira uma foto da ex-nora, motivo de irritação e riso da filha.
A avó paterna de Giovanna, no entanto, ainda não percorreu até o fim o caminho do acolhimento. Desde 2018 não conhece o abraço da neta – foi quando se sentiu à vontade para falar sobre seu “nojo” em relação à sexualidade de Giovanna ao comentar uma foto no Facebook da estudante.
Felizmente, a relação entre Giovanna e o pai tomou o sentido oposto. À semelhança de Carol, hoje ele não se importa em incomodar a filha com perguntas sobre como vai a ex-namorada dela, a quem havia se acostumado a receber em casa nos fins de semana.
Giovanna se entende uma privilegiada e diz que tem amigas e amigos que não puderam contar com o acolhimento da família, foram vítimas de violência física e expulsos de casa. “Para mim, foi um final feliz, consegui contornar”, diz. “Se deu certo para mim, muitas vezes não está dando certo para alguém. O orgulho, para mim, é estar atrelada ao grupo como um todo, ter amigos que passam por situações terríveis e estar aqui para corrermos juntos.”
Orgulho é pertencimento
Na cidade de São Paulo, o projeto da Casa1 tornou-se referência no acolhimento de jovens LGBTQIA+ entre 18 e 25 anos que procuram lugar para morar depois que suas casas se tornam ambientes ameaçadores. A acolhida pode durar até quatro meses, período em que os jovens são assistidos em direção à independência.

O ativista Iran Giusti, organizador do projeto Casa1, que acolhe jovens LGBTQIA+ na cidade de São Paulo. (Foto: Divulgação/Casa1)
De acordo com o organizador da Casa1, Iran Giusti, a procura pelo projeto não vem somente daqueles que foram expulsos de casa após saírem – ou serem arrancados – do armário. Ele explica que muitos jovens acabam deixando suas famílias quando o ambiente doméstico se torna insustentável. Outros são tocados para fora quando perdem um emprego que ajudava a compor a renda familiar.
A maior parte dos acolhidos, conta Iran, não retoma o contato com a família durante o período de acolhimento. “Leva um tempo. As tentativas de contato ou de retorno para a família são bem individuais, a grande maioria não trabalha essa frente”.
O que é muito comum é a tentativa de reconhecer algum elo. Mãe, tia, padrasto, alguém que seja mais aberto. “Trabalhar esse vínculo com essa figura cuja relação ainda existe acaba sendo um ponto importante, enquanto quem vem com relações cortadas com toda a estrutura familiar passa por um processo mais delicado”, explica.
Para Iran, o orgulho LGBTQIA+ experimentado na Casa1 significa justamente o acolhimento e o senso de pertencimento que falta nas famílias de onde saem os jovens que procuraram o projeto. O ativista explica que “orgulho LGBTQIA+ não é sobre se orgulhar simplesmente de ser um homem gay, por exemplo. É ter uma comunidade, uma cultura, uma linguagem, uma luta”.
Iran, Debora e Renan defendem que a batalha da comunidade LGBTQIA+ no Brasil se dá, sobretudo, no campo da cultura. Os três falaram sobre como o movimento acabou se tornando alvo de políticos conservadores. Mas Iran ressalta: “no fim das contas, o ódio e a LGBTfobia são uma prática do país, não é uma prática exclusiva de um governo”.
Nos últimos anos, a comunidade LGBQIA+ do Brasil experimentou algumas conquistas, como o direito à união civil, a criminalização da homofobia e o fim das normas que proibiam homens gays de doar sangue. Todas elas, contudo, produtos de entendimento do Judiciário. Ou seja, os avanços podem ser revertidos caso os magistrados mudem a maneira de ver tais situações.
O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) informou que tem trabalhado em parceria com diversas instituições durante o mês de junho, promovendo webnários e lives, enviando representantes do Departamento de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais à Câmara dos Deputados a audiências públicas, fazendo apresentações do Observatório sobre Violência LGBT e realizando visitas técnicas em São Paulo para conhecer projetos de empregabilidade LGBT.
Para o Dia Internacional de Orgulho LGBTQIA+, a pasta diz que “haverá uma oficina de Formação para funcionários do Banco Interamericano de Desenvolvimento”. E, no dia 2 de julho, haverá um webnário sobre Envelhecimento Saudável de Idosos LGBTI em parceria com a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (SNPI).
Em nota, o ministério informa que “visando a continuidade das ações que vinham sendo desenvolvidas, o MMFDH manteve toda a estrutura herdada do governo anterior, inclusive a equipe técnica”. Entre as ações prioritárias da pasta, estão o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica; a contratação de uma consultoria técnica para realizar o Diagnóstico da População LGBT no Sistema Prisional; a criação, em 2020, do Observatório Nacional de Denúncias de LGBTfobia, a partir do Disque Direitos Humanos; e a reestruturação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação.
Não deixe de curtir nossa página no Facebook, siga no Instagram e também no X.








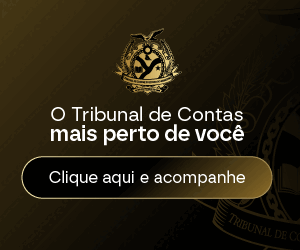











Faça um comentário