Brasil
‘Cápsulas do tempo’: Cientistas se preparam para estudar subsolo da floresta amazônica
Amostras coletadas do subsolo da floresta guardam pistas preciosas sobre o passado do bioma.

Mais de dois mil tubos plásticos contendo amostras do subsolo profundo da Amazônia devem ser enviados nas próximas semanas do Instituto de Geociências (IGc) da USP para um laboratório da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, como parte de um grande esforço internacional para desvendar o passado remoto da maior floresta tropical do planeta.
As amostras de formato cilíndrico, conhecidas como “testemunhos”, são oriundas de uma perfuração realizada entre maio e setembro de 2024 na margem sul da Ilha de Marajó (município de Bagre, no Pará), que chegou a 924 metros de profundidade. Cada tubo corresponde a um segmento do poço de perfuração, recheado com sedimentos que foram depositados ali pelo Rio Amazonas num passado distante e recuperados, agora, pelos esforços do Projeto de Perfuração Transamazônica (TADP, em inglês), uma iniciativa internacional envolvendo cientistas de 12 países.
Quanto mais profundo o sedimento, mais antigo ele é. Os pesquisadores estimam que os 924 metros perfurados correspondam a 25 milhões de anos de história da Amazônia, aproximadamente. O ponto de perfuração tem uma vantagem estratégica: por estar localizado próximo à foz do Rio Amazonas, ele concentra sedimentos que foram carreados pelas artérias fluviais de toda a Bacia Amazônica, fornecendo uma visão “panorâmica” de como o clima, a paisagem e a biodiversidade do bioma se modificaram ao longo desse período.
“Essas mudanças no ambiente e no clima estão registradas nos sedimentos que se acumulam nas bacias sedimentares”, diz o geólogo André Sawakuchi, professor do IGc-USP e coordenador do TADP no Brasil. Esses sedimentos são, basicamente, detritos de plantas, animais, solos e rochas que foram carregados pela água e acabaram sendo depositados no leito de rios e lagos do passado. “Com o tempo, esses detritos viram rochas sedimentares. Então, se conseguimos acessar as rochas sedimentares, nós estamos acessando um arquivo do passado do planeta”, completa Sawakuchi, em entrevista ao Jornal da USP.
Em outras palavras, é como se cada um desses testemunhos fosse uma cápsula do tempo, contendo os “restos mortais” de tudo que existia na superfície da Amazônia no período em que aqueles sedimentos foram gerados. Com esse material em mãos, é possível extrair uma série de informações sobre como eram o clima, a paisagem e a biodiversidade do bioma naquele determinado momento. Vestígios de pólen, por exemplo, permitem inferir como era a cobertura vegetal da floresta; enquanto que traços de carvão servem como indicador da quantidade de incêndios e do clima da época.
Linhas de pesquisa
Uma vez resolvidas todas as pendências burocráticas, o material será enviado de avião para um repositório especializado da Universidade de Minnesota, onde já estão depositados os testemunhos de uma perfuração anterior, realizada pelo TADP entre junho e dezembro de 2023, no Acre (município de Rodrigues Alves). Naquele caso, a perfuração chegou a 923 metros de profundidade (o pico do Corcovado, no Rio de Janeiro, comparativamente, tem 710 metros de altura).
O próximo passo será abrir os testemunhos para coletar amostras menores, que serão distribuídas entre os diversos especialistas do projeto para a realização de análises físicas, químicas e biológicas do material. São essas análises que, em última instância, vão gerar o conhecimento tão desejado pelo projeto.
Os testemunhos da primeira perfuração no Acre foram abertos em agosto de 2024 e as amostras já estão sendo analisadas em diversos laboratórios associados ao projeto. Cerca de 60 pesquisadores participam da iniciativa, de várias especialidades, nos vários países participantes. No Brasil, além da USP, como representante institucional, participam cientistas de outras dez universidades públicas (Unicamp, Unifesp, UFF, Uerj, Ufac, Ufam, UFSE, UFMT, UFPA, UnB) e do Museu Paraense Emílio Goeldi.
No IGc, por exemplo, Sawakuchi está encarregado de produzir algumas das informações mais fundamentais de todo o processo: a idade e a origem geográfica das amostras. Isso é feito por meio de uma série de procedimentos e análises dos grãos de quartzo presentes na areia do sedimento, que permitem determinar quando foi a última vez que eles estiveram expostos à luz e de qual macrorregião da Bacia Amazônica eles vieram.
Parte desse trabalho precisa ser feita num laboratório escuro, para medir o grau de luminescência do quartzo quando exposto a diferentes tipos de radiação e temperaturas. “Os grãos de quartzo que são produzidos nos solos dos Andes têm uma luminescência baixa, comparado ao quartzo que é produzido em solos de terrenos mais planos do Brasil Central ou no Planalto das Guianas, por exemplo. Então, a gente consegue discriminar muito bem (de onde veio aquela areia)”, explica Sawakuchi.
Informações sobre a idade e a origem geográfica dos sedimentos são importantes para mapear como era a malha fluvial da Bacia Amazônica no passado. Essa é outra linha de pesquisa associada ao projeto: entender como eventos geológicos de grande escala (como o soerguimento da Cordilheira dos Andes) moldaram os padrões de drenagem dos rios e outras características fundamentais da geografia amazônica — que, por sua vez, têm grande influência sobre os processos evolutivos e os sistemas climáticos que moldaram o bioma na sua configuração atual.
As evidências disponíveis até o momento sugerem que o Rio Amazonas como o conhecemos hoje (drenando para o Leste e desaguando no Oceano Atlântico) começou a se formar cerca de 11 milhões de anos atrás, segundo o geólogo Cleverson Silva, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF) e membro do comitê executivo do TADP. “Isso teria uma associação direta com um aumento nas taxas de soerguimento dos Andes”, explicou Silva, em entrevista ao Jornal da USP. O mapeamento cronológico da presença de sedimentos de origem andina nos testemunhos coletados pelo projeto, portanto, deverá ajudar a refinar as pesquisas sobre como e quando esses processos aconteceram. “Esse é um ponto que eu gostaria de determinar com mais precisão”, afirma Silva.
As técnicas de luminescência empregadas no laboratório de Sawakuchi são ideais para a datação de amostras mais recentes, com até 500 mil anos de idade. Amostras mais antigas exigem outras técnicas de datação, baseadas em isótopos e microfósseis.
A semelhança entre as profundidades alcançadas nas duas perfurações (923 e 924 metros) foi uma mera coincidência, segundo os pesquisadores. A meta original era perfurar até 2 mil metros de profundidade no Acre e 1.200 metros de profundidade na Ilha de Marajó, o que permitiria retroceder até 65 milhões de anos na história da floresta; mas dificuldades técnicas e limitações orçamentárias impediram a equipe de alcançar esses objetivos. O fato dos sedimentos estarem em estado pouco consolidado (e não rígidos, como rocha) dificultou bastante o trabalho, fazendo com que a sonda de perfuração ficasse presa diversas vezes e exigindo a realização de uma série de procedimentos para evitar o colapso das paredes internas do poço.
As perfurações avançaram até o ponto em que se tornou inviável continuar, do ponto de vista da disponibilidade de tempo e de recursos, além do esgotamento das equipes. Ao todo, foram mais de 280 dias de trabalho de campo: seis meses no Acre e três meses e meio na Ilha de Marajó. As operações funcionavam 24 horas por dias, sete dias por semana, com duas equipes de técnicos e pesquisadores se revezando em turnos de 12 horas, enfrentando o calor, a umidade e todas as dificuldades logísticas de se trabalhar na Amazônia.
“Foi intenso; desde o planejamento até a operação e a execução do trabalho, foi intenso”, resume o pesquisador Isaac Bezerra, pós-doutorando no IGc e gerente do TADP. Ele passou 220 dias no campo, coordenando o trabalho nos dois sítios de perfuração. “Mas, no final das contas, a sensação é de sucesso, pelo esforço que a gente fez e o material que a gente recuperou.”
Apesar de não terem alcançado as profundidades almejadas, foram as perfurações científicas mais profundas já realizadas na Amazônia. “Estamos muito aliviados e felizes com o que conseguimos”, disse ao Jornal da USP a pesquisadora Sherilyn Fritz, da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, que também compõe o comitê executivo do projeto. “Conquistamos mais do que qualquer outro grupo (de pesquisa) em termos de obter esses longos registros contínuos, de vários locais na Bacia Amazônica; então, eles são registros realmente sem precedentes. Não sabemos quais são as histórias que eles contarão ainda, é claro, mas estamos otimistas de que isso levará a alguns grandes saltos no conhecimento, que serão revolucionários em termos de compreensão da história da Amazônia e como ela se tornou o magnífico ecossistema que é hoje.”
O objetivo inicial, quando o TADP começou a ser concebido, cerca de dez anos atrás, era perfurar cinco locais, mas atrasos e complicações orçamentárias desencadeadas pela pandemia de covid-19 acabaram obrigando os pesquisadores a selecionar apenas dois sítios de perfuração — um em cada “ponta” da Bacia Amazônica. O início das perfurações no Acre, em junho de 2023, foi noticiado em primeira mão pelo Jornal da USP.
O custo das perfurações foi de US$ 4 milhões, financiado pelo Programa Internacional para Perfurações Científicas Continentais (ICDP), com sede na Alemanha; em parceria com a National Science Foundation (NSF), dos Estados Unidos; o Smithsonian Tropical Research Institute, sediado no Panamá; e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), no Brasil. A empresa responsável pelas perfurações foi a Geosol, de Minas Gerais.
Além do Brasil e dos Estados Unidos, o projeto inclui pesquisadores do Panamá, Alemanha, Holanda, Suécia, França, Áustria, Islândia, Dinamarca, Canadá, Itália e Suíça.
Não deixe de curtir nossa página no Facebook, siga no Instagram e também no X.

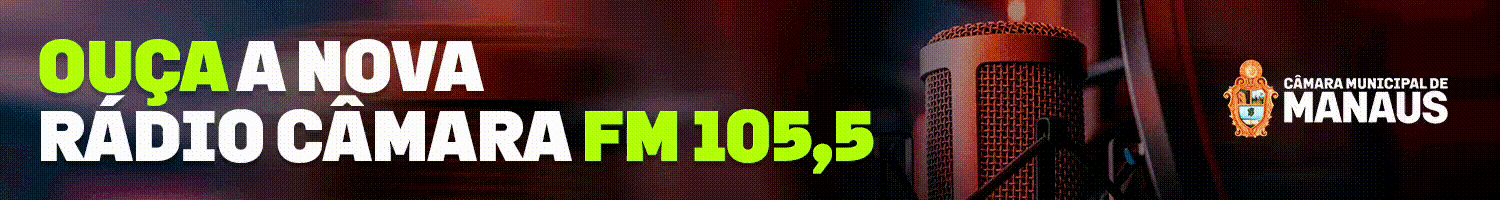






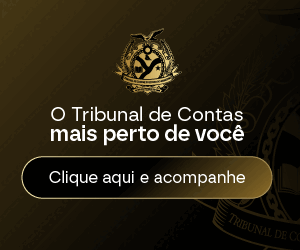
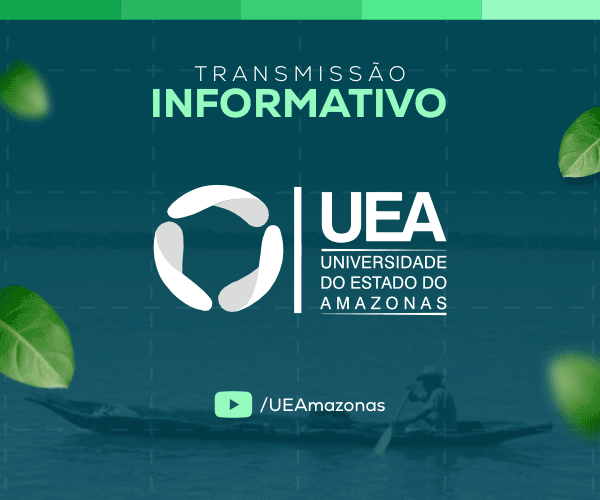









Faça um comentário