Brasil
Sem demarcação, terras indígenas sofrem com invasões e presença de facções, diz Folha
O PCC e o Comando Vermelho estão em Sena Madureira (AC), a cidade mais próxima da terra indígena Jaminawa do Rio Caeté.

Aldeia Extrema, na Terra Indígena Jaminawa do rio Caeté, no Acre Aldeia Extrema, na terra indígena Jaminawa do Rio Caeté, no Acre. (Foto: Lalo de Almeida/ Folhapress)
Uma história cheia de curvas. Assim indigenistas da Funai (Fundação Nacional do Índio) definiram a trajetória dos jaminawas, habituados a conflitos internos e a longas peregrinações na Amazônia. As informações são do jornal Folha de São Paulo.
Os jaminawas mantêm vivas as lembranças de mortes em enfrentamentos entre famílias. Peregrinaram por reconciliação e sobrevivência, até serem acomodados pelo Estado numa terra —a Jaminawa do Rio Caeté— em 1997, permitindo um armistício para o que os indigenistas chamaram de “guerras intertribais”.
Agora, 25 anos depois, no interior do Acre, os conflitos entre os jaminawas têm outra origem: jovens de aldeias distintas são cooptados pelas maiores facções criminosas de São Paulo e do Rio de Janeiro.
O PCC e o Comando Vermelho estão em Sena Madureira (AC), a cidade mais próxima da terra indígena Jaminawa do Rio Caeté. São 80 km de distância —ou, em média, três horas e meia de carro por uma estrada de terra acidentada, mesmo período gasto quando é possível pegar um barco, na época de cheia.
As facções cooptaram jovens jaminawas, como descreveram à Folha três pais de indígenas presos na penitenciária da cidade por suspeita de tráfico de drogas. São oito prisões recentes, segundo os relatos à reportagem feitos dentro de uma casa simples de madeira e teto de palha, na aldeia principal do território.
Por integrarem grupos rivais, eles não podem dividir as mesmas celas, e os familiares têm de se organizar para visitas em dias distintos. Nas aldeias, quando em liberdade, esses indígenas não se encontram mais.
Em meio ao avanço das facções nos últimos cinco anos, os jaminawas estão jogados à própria sorte, numa terra indígena sem demarcação. Não há reconhecimento da ocupação do território, delimitação e acompanhamento consistente ou fiscalização contra invasores por órgãos como a Funai.
Aldeias da Jaminawa do Rio Caeté não têm energia, água potável e escolas —a escola da aldeia principal ruiu. Em espaços improvisados, o ensino só existe até o quarto ano do ensino fundamental.
O abandono ocorre apesar da existência de uma decisão da Justiça Federal que determinou à Funai a conclusão do relatório sobre a ocupação territorial feita pelos jaminawas, para fins de demarcação. A decisão foi proferida em dezembro de 2016. O prazo dado era de seis meses. Nada foi feito.
Documentos do processo de demarcação mostram que a Funai, no governo de Jair Bolsonaro (PL), só reconstituiu um grupo técnico, para elaboração do relatório, em fevereiro de 2022. Esta é apenas a etapa inicial de um longo e burocrático processo que pode, um dia, culminar na demarcação.
A situação da terra Jaminawa do Rio Caeté evidencia as consequências da política de Bolsonaro de barrar toda e qualquer demarcação. A homologação desse processo passa pela caneta do presidente, que cumpriu a promessa e a renovou, em caso de reeleição: “Não terá um centímetro quadrado demarcado”.
A redução de demarcações é progressiva ao longo dos últimos mandatos presidenciais, mas Bolsonaro é o primeiro a zerar tanto as declarações de posse —atos que antecedem as homologações— quanto as demarcações definitivas, segundo consultas ao Diário Oficial da União e dados levantados por Cimi (Conselho Indigenista Missionário) e ISA (Instituto Socioambiental).
Decisões da Justiça Federal não são cumpridas. Em 2018, ano em que Bolsonaro foi eleito, havia 54 decisões determinando o avanço dos processos de demarcação, diante da histórica letargia da Funai.
Na reta final do mandato, após recursos na Justiça, 20 processos seguem na fase de reivindicação; 30, em estudo; 3, em reestudo; e apenas 1 está em fase de declaração de posse.
O banco de dados da Funai registra 417 terras indígenas homologadas e regularizadas. Outras 235 têm processos em andamento, o que totaliza 652. Quando se incluem todas as reivindicações, o que é compilado ano a ano pelo Cimi, são 1.300 terras indígenas, o dobro do que é levado em conta pela Funai.
Procurado, o órgão não respondeu aos questionamentos da reportagem.
Ao colocar em prática a política do “nem um centímetro”, Bolsonaro estabeleceu um padrão para esses territórios. A Folha percorreu 6.000 km, esteve em sete terras indígenas na Amazônia —cinco não demarcadas e duas demarcadas, que sofrem consequências dessa política— e constatou uma realidade comum aos lugares, em escalada cada vez mais grave: invasões múltiplas por madeireiros, pescadores, caçadores e grileiros; lideranças ameaçadas de morte; e conflitos internos insuperáveis.
A ausência quase total da Funai, com a consequente ampliação de frentes de vigilância pelos próprios indígenas, também é uma constante. A reportagem teve acesso a documentos de processos administrativos por meio da Lei de Acesso à Informação e consultou ações judiciais com decisões a favor das demarcações. As histórias serão contadas em cinco capítulos, um por semana.
Na Jaminawa do Rio Caeté, os indígenas preservam a língua pano e pouco usam o português para se comunicar. Em cinco aldeias, em que antes existiam dois seringais, vivem 240 indígenas. Eles chegaram à terra em 1997, pelas mãos do Estado —mais especificamente por iniciativa da Funai—, depois de um histórico de mendicância em Rio Branco, a 140 quilômetros de Sena Madureira.
Antes das ruas da capital do Acre, os indígenas viviam em terras em Assis Brasil (AC), na fronteira com Peru e Bolívia. Segundo indigenistas que auxiliaram as famílias na busca por território, a origem do grupo está no Peru. Antepassados viviam pacificamente numa aldeia, até o aparecimento de “caucheiros peruanos” —seringueiros do país vizinho.
“Nasci num seringal, entre os rios Acre e Iaco”, diz Antônio Jaminawa, um dos pioneiros da terra indígena. “No seringal, cortava, derrubava e carregava seringa. Aí mataram meu irmão, em briga de parente, e deixei o lugar. Era para ser eu, ele morreu por engano.”
A escolha do território, cujo suposto dono tinha dívidas com a União, deu-se porque jaminawas trabalharam para seringueiros do lugar, de acordo com Manoel Jaminawa, assistente de saúde indígena. Ele estava com Antônio na expedição de busca pela terra, em 1997. Tinha 19 anos. Famílias inteiras aguardavam o desfecho para prosseguir para a região.
Com aval da Funai, os jaminawas se instalaram no território. Lá, eles mantêm os hábitos de caça, pesca e cultivo de macaxeira e banana. As famílias reconquistaram uma convivência mais harmônica, que havia se perdido por uma sucessão de acontecimentos: a chegada dos caucheiros do Peru, o alcoolismo em aldeias brasileiras, a dependência de esmolas nas esquinas de Rio Branco.
A demarcação nunca saiu. A medida permitiria ações de fiscalização contra invasores. A terra é vizinha da reserva extrativista Cazumbá-Iracema, criada em 2002, cinco anos após a chegada dos jaminawas. A reserva é salpicada de propriedades rurais, onde se cria gado, e tem longas faixas de degradação.
A convivência entre os dois lados já foi bastante conflituosa. Uma história repetida à exaustão é o assassinato de um indígena por um policial em Sena Madureira, durante disputa com um extrativista. As duas partes brigavam por terra.
“Tem gente na reserva que não gosta de nós, não gosta de índio”, diz Antônio Pedro Jaminawa, que era sogro da vítima.
A corrida na Jaminawa do Rio Caeté, hoje, é pela inclusão da produção de banana e macaxeira no cardápio da merenda nas escolas estaduais e pela construção de escolas nas aldeias sem salas de aula e sem turmas a partir do quinto ano do ensino fundamental. O entendimento nas comunidades é o de que a demarcação as colocaria no mapa do Estado brasileiro.
Não deixe de curtir nossa página no Facebook, siga no Instagram e também no X.








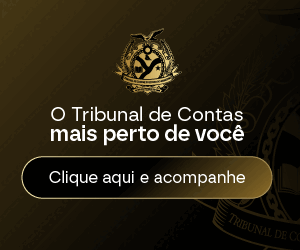











Faça um comentário