Mundo
Mundo atinge trágica marca de 1 milhão de mortos pelo novo coronavírus
Em menos de nove meses desde o início da pandemia, a cifra de óbitos pela Covid-19 equivale a 13 Maracanãs lotados ou a toda a população de Maceió.

Um milhão de mortos pelo novo coronavírus. A cifra, simbólica, é alcançada quase nove meses após o primeiro óbito oficial devido à doença, em 11 de janeiro, e quase sete após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar que a Covid-19 era uma pandemia, em 11 de março. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.
Nesse período, além de mais de 1 milhão de mortos, a crise sanitária se desdobrou em crise econômica, que agravou desigualdades já muito acentuadas em todo o mundo e provocou terremotos políticos em um cenário polarizado, em que a ciência foi colocada em dúvida por chefes de Estado e nas redes sociais.
O número —1 milhão, de acordo com os dados compilados pela Universidade Johns Hopkins— equivale a 13 Maracanãs lotados ou a toda a população de Maceió. E tudo indica que será apenas mais um marco emblemático a ser superado: não o único milhão, mas o primeiro.
Estima-se que o número verdadeiro de mortes seja maior, uma vez que há o problema da subnotificação. De acordo com Alan Lopez, diretor de um grupo de pesquisa da Universidade de Melbourne, na Austrália, que estuda o impacto de doenças, a quantidade real de óbitos está em torno de 1,8 milhão.
Ele calcula que até o final do ano a doença mate 2,8 milhões de pessoas, o que a tornaria a quinta maior causa global de mortes em 2020. Na sexta-feira (25), o diretor executivo do programa de emergências de saúde da OMS, Mike Ryan, admitiu ser possível que a cifra oficial dobre.
Ainda que a curva da Covid-19 tenha se estabilizado em muitos países, o número de novos casos segue crescendo mais rapidamente do que nunca, com média pouco abaixo de 300 mil por dia, e dificilmente uma vacina estará disponível em todo o mundo dentro dos próximos nove meses.
Como chegamos até aqui? O histórico da pandemia sugere uma combinação de condições biológicas, negligência política e demora para agir.
Cogitava-se havia alguns anos que a próxima pandemia viria da China. O epidemiologista Rob Wallace apontou, em um livro de 2016, que o sul do país tinha as condições ideais para a disseminação de novos vírus: desmatamento acelerado, rápida incorporação de um sistema de produção de carnes baseado no confinamento de animais, alta densidade populacional, gripe que circulava o ano todo.
Hoje, há certeza de que o vírus foi originado em animais. A hipótese principal é a de que ele ficou hospedado em morcegos e posteriormente em pangolins —mamíferos que lembram o tamanduá e que teriam servido de intermediários para a transmissão aos seres humanos. Há suspeitas de que eles eram vendidos ilegalmente em Wuhan, local de origem dos contágios.
Em 31 de dezembro de 2019, a China notificou a OMS do surgimento de 34 casos do que parecia ser um tipo incomum de pneumonia na cidade. A maior parte dos pacientes trabalhava em um mercado atacadista local, fechado no dia seguinte.
Oito dias depois, em 7 de janeiro, o vírus encontrado nos doentes foi confirmado oficialmente como um novo tipo de coronavírus. A primeira morte, de um homem de 61 anos que tinha feito compras no mercado, foi divulgada em 11 de janeiro. O primeiro caso fora da China foi detectado quatro dias depois, na Tailândia, de uma mulher recém-chegada de Wuhan.
As autoridades locais recomendaram que a população evitasse aglomerações, mas demoraram a reconhecer o surto como um problema sério. A prefeitura de Wuhan fechou os meios de transporte apenas em 22 de janeiro, e decretou “lockdown” no dia seguinte —quando já havia 540 registros de infecções e 17 mortes, além de casos no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia e EUA.
A OMS emitiu um boletim aos países que classificava o risco da doença como moderado.
Criticado pela resposta lenta ao vírus, o prefeito de Wuhan renunciou ao cargo no dia 27. A essa altura, 5 milhões dos 11 milhões de moradores já haviam deixado a cidade, o que contribuiu para que o vírus se espalhasse. Em 30 de janeiro, quando a China já contava quase 8.000 casos e 170 mortes, a OMS declarou que o coronavírus era uma emergência global.
O vírus adentrou a Europa e outros países asiáticos, com novos casos confirmados em lugares como Nepal, Austrália, França, Vietnã, Reino Unido, Canadá, Alemanha e Filipinas —onde foi registrada a primeira morte fora da China, no dia 2 de fevereiro. O Brasil decretou emergência nacional no dia 3 de fevereiro. No dia 5, o Congresso aprovou uma lei que dava ao poder público o direito de decretar quarentena e tomar medidas restritivas contra o vírus. Mesmo assim, o Carnaval foi realizado normalmente.
No dia 9 de fevereiro, a doença na China superou as 811 mortes da epidemia do Sars, em 2002. Quando ela recebeu o nome de Covid-19, no dia 11, os casos no mundo eram da ordem de 45 mil, e as mortes, de 1.100. O Egito foi o primeiro país africano a relatar um caso, no dia 14.
No dia 26 de fevereiro, o Brasil confirmou sua primeira infecção. A Itália registrou três mortes, mas só decretou “lockdown” em 8 de março —quando os casos no mundo já passavam de 100 mil. O Irã também registrou um surto local. A OMS decretou que tratava-se de uma pandemia em 11 de março, quando a doença chegou oficialmente aos seis continentes do planeta.
Era o início de um cenário quase surreal: o mundo foi paralisado de um modo nunca visto para tentar frear o avanço da doença. Países foram anunciando medidas em série, em todos os continentes. Entre 15 e 31 de março, mais de 30 metrópoles decretaram medidas de restrição e ficaram com as ruas vazias.
Escolas, escritórios e restaurantes foram fechados às pressas. Para parte da população, começou a fase de home office. Para outros, veio o desemprego, queda na renda e sufoco. Para quase todos, o medo de se contaminar e de perder algum familiar querido para uma ameaça invisível.
Em abril, enquanto ainda havia dificuldade para obter máscaras e álcool em gel no Brasil, o noticiário mostrava as cenas de tragédia na Itália, na Espanha e em Nova York, com hospitais lotados, ruas desertas em que o que se ouvia era apenas as sirenes de ambulâncias e milhares de mortes por dia. Era o tempo das entrevistas coletivas diárias ao vivo na TV, para informar os números da doença, e de imagens marcantes pelo mundo, como a do papa Francisco orando para uma praça de São Pedro vazia.
Líderes como o presidente dos EUA, Donald Trump, e o premiê do Reino Unido, Boris Johnson, tentaram minimizar a crise, mas recuaram depois de algum tempo. O norte-americano vive uma montanha-russa, e muda de opinião sobre a crise sanitária conforme saem as pesquisas de intenção de voto e de popularidade.
No começo de abril, Boris foi internado na UTI, mas sobreviveu ao coronavírus e passou a dar gravidade à crise que seu país enfrenta. Outro negacionista, dessa vez convicto, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, chamou a Covid-19 de “gripezinha”, reuniu-se com apoiadores sem respeitar o distanciamento social e foi duramente contra as medidas de restrição para tentar frear a disseminação do vírus.
Ao ser questionado sobre o alto número diário de mortes devido ao coronavírus no País, respondeu: “E daí? Lamento, quer que eu faça o quê?”.
Em maio, a situação na Europa começou a melhorar junto com a chegada do calor e os países foram reabrindo aos poucos. Cenas de pessoas de volta às ruas trouxeram a sensação de que a crise estava passando, mas também preocupação por ver multidões se aglomerando, o que facilita a contaminação.
Enquanto o continente europeu deixava o pior para trás, Estados Unidos e Brasil se consolidavam como os países mais afetados pela doença no mundo, clube ao qual logo se juntariam Índia e Rússia. Nos dois países do continente americano, o negacionismo presidencial e a falta de articulação entre governo federal e local ajudaram a atingir essa marca.
Depois de tantas semanas, a situação de pandemia se tornou rotina. Os números de casos seguiram altos, mas deixaram de chamar a atenção. O relatório diário da evolução da doença passou a ter tempo reduzido nos noticiários televisivos, parecido com a previsão do tempo. O interesse por notícias sobre a pandemia, que gerou recordes de audiência a veículos de imprensa no começo da crise, foi aos poucos diminuindo. O medo e o interesse pelo desconhecido deram lugar, para alguns, à negação.
A partir do fim de maio, uma onda de protestos antirracismo se espalhou pelos Estados Unidos e por outras cidades do mundo, gerando aglomerações apesar dos alertas das autoridades. Depois dos atos, no entanto, não houve grandes ondas de Covid nas cidades em que eles foram realizados.
Em junho, o futebol, o basquete e outros esportes foram retomados, sem a presença de torcedores. Empresas, lojas, shoppings e restaurantes passaram a funcionar com horário e capacidade reduzidos. Já as aulas presenciais voltam de modo mais tímido, e muitas cidades ainda decidem o que fazer.
No segundo semestre, a vinda da vacina se tornou o grande desejo. As pesquisas, feitas em paralelo por vários países, viraram uma questão política, um trunfo a ser exibido pelo líder do país que obtiver o medicamento primeiro. EUA, China, Reino Unido e Rússia estão na briga.
A partir de agosto, novos picos de casos na Europa voltaram a preocupar. O número de infectados é alto, mas o de mortes se mantém baixo, fruto do avanço da medicina, que aprendeu a tratar melhor a Covid-19, da quantidade de testes realizados e de que, hoje, os jovens são os principais atingidos. Ainda que o coronavírus já tenha matado até bebês, são os idosos os que têm mais chances de, ao serem infectados, evoluírem para casos mais graves.
Para tentar conter uma nova crise, países como Espanha e Reino Unido adotaram novas medidas de restrição em setembro, mas ainda em escala pequena perto do que foi feito no início do ano. Os governos tentam calibrar as decisões, com medo de abortar a recuperação da economia, que registra recessões recordes em muitos países.
O fim do ano chega com a dúvida se o frio no hemisfério norte poderá ajudar a Covid-19 a ressurgir com força ou se as lições aprendidas ao longo do ano serão suficientes para evitar problemas maiores.
No Brasil, o calor leva cada vez mais pessoas para praias e bares a cada fim de semana, enquanto os números de mortes caem muito lentamente semana a semana. Somos responsáveis por ao menos 141 mil dos 1 milhão de mortos. Em menos de nove meses, 1 milhão de mortos por coronavírus.
Não deixe de curtir nossa página no Facebook, siga no Instagram e também no X.








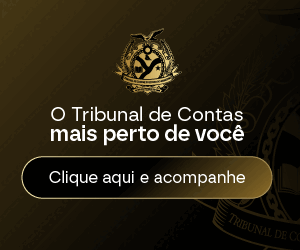











Faça um comentário